O adjetivo católico possui uma complexa etimologia, envolvida num emaranhado de significados, fruto de uma longa história. Do grego katholikós, a palavra católico é a junção de dois termos gregos kata (sobre – junto) e holos (inteiro, todo, total). A tradução corrente para o português é universal, que abrange tudo, que reúne todos. Portanto, católico designa aquilo que tem vocação de universalidade, que é universal. Curioso notar que Aristóteles, no século IV aC, usava este termo para designar as proposições universais, enquanto Zenão de Eléia também escreve sobre os universais designando-os como católicos.
Na tradição cristã o termo católico foi utilizado pela primeira vez para descrever a igreja cristã no início do século II, quando Inácio de Antioquia escreve sua Epístola aos Esmirniotas (110 dC). Nesta epístola aparece a expressão ‘a igreja católica’, querendo designar a Igreja como Reino de Deus que abarca a todos. Depois disso, Cirilo de Alexandria, em suas Palestras Catequéticas (350 dC) e Teodósio I no Edictum de Fide Catholica (380 dC) também usaram a mesma expressão, sendo este último para estabelecer o cristianismo católico como a religião oficial do Império Romano.
Fonte:
<https://faculdadejesuita.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Palavra-do-reitor-Abril-2022.docx.pdf>. Acesso em: 20 set. 2023.

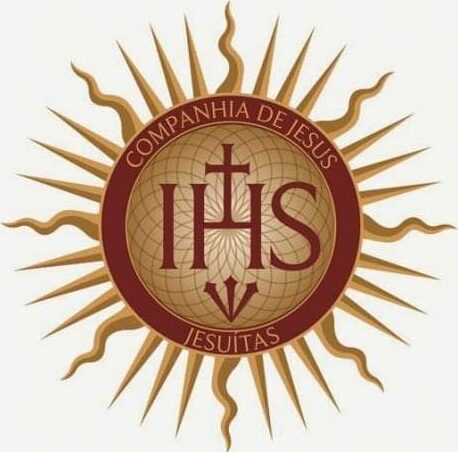



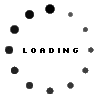





![PADRE JULIO LANCELLOTTI: A CONSCIÊNCIA PESADA DE ALGUNS CRISTÃOS
Padre Julio Lancellotti, um nome que reverbera nas ruas de São Paulo e nos corações de muitos que acompanham seu trabalho, é conhecido por sua dedicação incansável aos mais vulneráveis. Sua atuação como vigário da Pastoral do Povo de Rua transcende o tradicional papel de um sacerdote, trazendo à tona questões de justiça social que desafiam não apenas as estruturas políticas, mas também a própria consciência cristã. Para alguns cristãos, ele se torna uma espécie de espelho que reflete suas contradições, gerando um desconforto que muitas vezes se traduz em perseguição.
Padre Julio Lancellotti é um defensor fervoroso dos direitos dos marginalizados, especialmente daqueles que vivem nas ruas. Ele não apenas prega o Evangelho, mas vive-o, atuando diretamente na linha de frente contra a pobreza e a desigualdade. Este trabalho de base e a sua atitude de solidariedade ativa desafiam o status quo e confrontam diretamente a indiferença de muitos setores da sociedade, incluindo dentro da própria Igreja.
A atuação de Lancellotti é um testemunho vivo do que significa seguir os passos de Jesus Cristo, conforme interpretado pelos Evangelhos. Ele encarna o princípio do amor ao próximo, enfatizando que a fé sem obras é morta. Seu comprometimento com a justiça social faz dele uma figura incômoda para aqueles que preferem um Cristianismo mais confortável, focado apenas em ritos e doutrinas, e menos na ação direta e na transformação social.
Para alguns cristãos, Padre Julio Lancellotti representa uma "consciência pesada". Ele é um lembrete constante daquilo que muitos preferem ignorar: a chamada cristã para amar e servir ao próximo de maneira incondicional. Sua mensagem desafia a complacência e a apatia, questionando o compromisso dos cristãos com os ensinamentos de Jesus sobre cuidado e justiça social.
Esse desconforto é evidenciado nas críticas e perseguições que ele enfrenta, tanto de indivíduos quanto de setores institucionais. A mensagem de Lancellotti, ao expor a hipocrisia de uma fé que não se traduz em ação [...]
Mauro Nascimento (@maurolnascimento)
#Katholikos #PadreJulioLancellotti #consciência](https://katholikosbrasil.com/wp-content/uploads/2023/06/452643525_7901498339941404_4262230974879057512_n.jpg)


